Por Marina Ito
A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992) acaba de
completar 20 anos e alçou maior importância com a Lei da Ficha Limpa
(Lei Complementar 135/2010), já que condenados por improbidade podem
ficar fora das eleições se houver decisão colegiada que confirme a
condenação. Com isso, aumentou a responsabilidade do Judiciário. “Quanto
mais atribuição e competência se dá a juízes e promotores, maior
responsabilidade eles terão que ter”, afirma, a propósito, o
desembargador
Marcelo Buhatem, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Membro
do Ministério Público por quase 20 anos antes de ingressar no Tribunal
pelo quinto constitucional, Buhatem foi autor de diversas Ações de
Improbidade que chegaram ao Judiciário. Ele enfrentou as polêmicas
iniciais da lei, como a discussão se havia foro por prerrogativa de
função quando alguma autoridade era processada por ato de improbidade.
Hoje, a jurisprudência firmada é de que não há.
Em ano de eleição,
chovem ações de improbidade na Justiça. A atuação do MP costuma ser
questionada, devido à influência política que esses processos têm no
pleito, principalmente no municipal. “Os promotores sempre foram
acusados por uma das partes de construírem manobras políticas contra
ela”, observa Buhatem. Para ele, a motivação política não deve ser o
foco da análise do processo e sim os fatos apresentados nos autos. “O
Judiciário existe para podar eventuais excessos, com todos os meios de
defesa inerentes ao processo.”
Há dois anos, Buhatem está do outro
lado, e justamente em um tribunal apontado pelo Conselho Nacional de
Justiça como um dos que menos condena em ações por improbidade. “Acho
que a forma de avaliar se está havendo condenação ou não é precipitada
se a gente não olhar caso a caso. Há ações que podem efetivamente estar
mal instruídas e ações que podem estar bem instruídas e mal julgadas.
Mas está o STJ, o duplo grau, exatamente para tentar reverter um erro e
assim fazer com que a ação volte ao seu trilho normal”, afirma.
Buhatem
é defensor de carteirinha do quinto constitucional. “Há críticos
ferrenhos do quinto. Eu os entendo, mas não os compreendo.” Para ele,
promotores e advogados que ingressam no tribunal aproximam a corte da
realidade e da sociedade. “Hoje, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
tem inúmeros projetos sociais. No passado, não havia essa preocupação
social.”
Abertamente apaixonado pelo Ministério Público, o
desembargador reconhece que o órgão enfrentou algumas dificuldades. “Vi
alguns excessos e posso até ter cometido alguns também. Faltava um ponto
de equilíbrio e esse ponto está chegando. É como a criança que não
sabia andar. Ela quer andar na casa toda, o tempo todo, cansa todo
mundo, cai e se machuca. Com o decorrer do tempo, ela vai percebendo os
perigos de ali ou acolá. Hoje o Ministério Público aprendeu a andar, os
excessos são muito menores do que no passado”, avalia.
Maranhense,
Marcelo Buhatem é descendente de libanês e está no Rio de Janeiro desde
os 16 anos. Uma irmã é promotora de Justiça no Maranhão e o cunhado
desembargador do tribunal daquele estado. Botafoguense, Buhatem
formou-se em Direito pela Universidade Cândido Mendes em 1982 e é
especialista em tutela coletiva.
Leia a entrevista:
ConJur — Há resistência dos juízes com as ações de improbidade administrativa?
Marcelo Buhatem — Eu passei a manejar a ação de improbidade
administrativa quando estava no Ministério Público. Na época, havia uma
discussão muito grande se prefeitos tinham foro por prerrogativa de
função, entendimento que poderia levar as ações que eu propus no
município para o tribunal. Esse era o primeiro entrave, pois havia
decisões nos dois sentidos. Os juízes ficavam à mercê dessas decisões; o
Ministério Público, na época, com os processos emperrados; e a
população a exigir dos promotores uma rápida solução do caso. Até que o
Supremo entendeu que não havia prerrogativa de função em ação de
improbidade. Hoje, no caso, só o presidente da República, os ministros, o
presidente do Banco Central, equiparado a ministro, detêm foro por
prerrogativa de função. Outro problema da ação de improbidade são os
tipos absolutamente abertos na lei. Eles levam a interpretação de toda
sorte.
ConJur — De que maneira?
Marcelo Buhatem — A Lei 8.429, nos artigos 5
º, 6º, 7º, 8
º e principalmente o 9º
,
diz que constitui ato de improbidade administrativa importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial.
“Qualquer tipo de vantagem” é tão aberto que se chegou a pensar que o
servidor público que saísse da sua repartição com uma caneta de lá no
bolso poderia ser responsabilizado por isso. E a sanção para essas
condutas são — e devem ser — muito severas. A maior clientela do
Ministério Público, que maneja essas ações, é política, sem embargo do
particular também. Elas têm um forte viés político. O corruptor, que
geralmente é um grande empresário, também está abrangido pela lei, o que
atrai para essas ações uma influência do poder econômico. Isso sempre
causava embaraços. Eu percebia a movimentação de grandes escritórios de
advocacia, que estão se especializando nessa matéria. Essa lei é
importante para a República; não sei como um país pode viver sem uma lei
dessa. Mas a sanção é muito forte.
ConJur — E como o Judiciário lidava com essas ações?
Marcelo Buhatem — Acho que o Judiciário brasileiro não foi
forjado para julgar ações coletivas — porque essa é uma ação coletiva
também. Ele fica preocupado com a abrangência da decisão. E quanto maior
a abrangência, melhor é a ação, pois evita ações individuais sobre o
tema. Geralmente, as ações coletivas são longas, volumosas, com
inquérito civil. Isso tudo assusta um pouco. Mas quando o Ministério
Público faz uma grande investigação, a mais isenta possível, e abstrai a
parte política com ações bem instruídas, não há outra solução a não ser
a procedência do pedido do MP. Eu confiava piamente nisso. Agora, estou
do outro lado.
ConJur — E como o senhor avalia, hoje, a
falta de condenação em ações de improbidade apontada pelo CNJ no
Tribunal de Justiça fluminense?
Marcelo Buhatem — Primeiro, desconfio um pouco do banco de
dados. Acho que é preciso saber se ele está sendo corretamente
alimentado. Também não nego que seja possível que algumas ou muitas
dessas ações não estejam suficientemente instruídas. O desembargador
sabe das consequências danosas e gravosas de uma ação de improbidade,
principalmente com a lei da Ficha Limpa. Um condenado por um colegiado
estará impossibilitado de se candidatar nas próximas eleições. O
tribunal é um colegiado, logo, está diretamente relacionado às
consequências da Lei da Ficha Limpa. Acho que a avaliação sobre as
condenações é precipitada se não olharmos caso a caso. Há ações que
podem, efetivamente, estar mal instruídas e aquelas que podem estar bem
instruídas e mal julgadas. Mas para isso existe o STJ, exatamente para
tentar reverter um erro e assim fazer com que a ação volte ao seu trilho
normal.
ConJur — A discussão em relação ao dolo, se era
necessário ou não comprová-lo para que o réu fosse condenado, pode ter
influenciado em decisões que tenham absolvido os acusados?
Marcelo Buhatem — Surgiu o entendimento de que somente
comprovado o dolo para que o administrador, o agente político ou
público, fosse condenado nas penas da lei de improbidade. Eu discordo
deste posicionamento. A lei é bem clara, refere-se à culpa inclusive.
Nós temos que analisar a culpa
in eligendo. O administrador
sabe de antemão que determinado secretário é um gatuno, logo não pode
nomeá-lo para ser secretário de nada. A lei é arrojada e temos que
interpretá-la da melhor forma. Há, ainda, a discussão sobre a prescrição
dessas ações. Há quem entenda que elas prescrevem em cinco anos. A
maioria dos ministros do Supremo já entendeu que essas ações são
imprescritíveis se houver condenação de devolução ao erário público. Eu
comungo com essa ideia.
ConJur — Quando se fala em improbidade, logo se pensa em licitação. Há algo errado com a Lei das Licitações [Lei 8.666/1993]?
Marcelo Buhatem — O Brasil acha que a Lei 8.666 deve nortear
toda a relação com o empresariado. No entanto, há furos na lei. Uma
empresa, que é contratada para construir um prédio de R$ 150 milhões,
está isenta de fazer licitação para contratar o quê pelo conjunto da
obra? O elevador, que ela não fabrica nem instala, o granito que ela não
fabrica e só instala? Acho que só esse exemplo já demonstra que a
legislação precisa ser repensada. Se o administrador faz uma licitação
com todos os requisitos legais, mas dá a ela a oportunidade de contratar
sem licitação todo e qualquer serviço de quem quiser, inclusive de
eventuais apaniguados do seu contratante, não funciona. Recentemente,
vimos como se dá essa questão da licitação em um hospital público no Rio
de Janeiro, em uma reportagem do
Fantástico [a notícia mostra
representantes de empresas oferecendo propina ao repórter, que se passa
por gestor de compras do hospital pediátrico da UFRJ] . Todo
investigador sabe da existência desse tipo de complô, de farsa. Mas
difícil é pegar. Do jeito que está, não há solução, porque há um furo na
lei que precisamos tentar resolver no Legislativo.
ConJur
— O senhor citou a Lei da Ficha Limpa que, de certa forma, acelera os
efeitos de uma condenação quanto a perda dos direitos políticos. O
promotor não corre o risco de se tornar um instrumento de manobra de
adversários políticos que queiram tirar um candidato da corrida
eleitoral?
Marcelo Buhatem — Os promotores sempre foram acusados
por uma das partes de construírem manobras políticas contra ela. Acho
que o Judiciário existe para podar eventuais excessos, com todos os
meios de defesa inerentes ao processo. É obvio que tanto o promotor
quanto os juízes terão, agora, maior responsabilidade. Quanto mais
atribuição e competência se dá a essas pessoas, maior responsabilidade
elas terão que ter.
ConJur — Em relação às ações civis
públicas em geral, que não dizem respeito a improbidade, os juízes
também têm mais preconceito?
Marcelo Buhatem — No caso de meio ambiente, um juiz
entre 45 a 50 anos de idade não teve, nos bancos escolares, qualquer
ensinamento sobre Direito Ambiental. Na época em que estudei, não tive
experiência nessa área. Precisei correr atrás, estudar depois. O
primeiro preconceito vem da falta de preparo para essas ações. Os que o
têm se sobressaem como o ministro Herman Benjamin, um estudioso na
matéria. O segundo problema é que o Direito Ambiental deságua no
urbanismo e, consequentemente, nas grandes empreiteiras, chegando até a
questão do emprego. O maior empregador do Brasil é a construção civil.
Esses são elementos muito difíceis de equacionar, porque toda vez que se
tenta transformar uma área em não edificante ou paralisar a construção
de uma obra, surge a discussão sobre a geração de empregos. Acho que,
nos últimos 10 anos, a questão ambiental passou a ser vista de maneira
mais responsável e com isso conseguimos formar uma consciência
ambiental. Percebo que os juízes, ainda, enxergam apenas a palavra
desenvolvimento na expressão “desenvolvimento sustentável”. Embora haja
bons juízes com consciência ambiental, penso que é preciso mais.
ConJur
— O Rio de Janeiro tem um problema sério quando o assunto é preservação
de área ambiental. O próprio poder público é conivente com a ocupação
dessas áreas. Estaria o poder público apostando no modo como o
Judiciário enxerga a questão?
Marcelo Buhatem — O Judiciário acaba se formando e se
formatando diante do meio em que vive. É possível que, no Rio de
Janeiro, sejamos mais permissivos nessas chamadas ocupações irregulares.
Quando era promotor instaurei vários inquéritos para tentar mapear as
áreas de proteção em Niterói. Descobrimos áreas que não dá para ninguém
morar, mas onde há vários casebres. A favelização vem desde a década de
50 e ao chegar ao nível que está, o juiz acaba se convencendo de que não
é ele que irá resolver. É uma questão mais de política urbanística e
ambiental do Executivo, que precisaria ser um pouco mais firme. Não
adianta levar tudo para o Judiciário.
ConJur — E quanto a
proteção coletiva do direito do consumidor? Não é mais racional ter uma
ação civil pública para resolver uma conduta reiterada de uma empresa do
que ter várias ações individuais, entupindo o Judiciário de processos?
Marcelo Buhatem — Isso é óbvio. É importante que nós
saibamos que esta é uma ação que pode desafogar muito o Judiciário. Eu
defendo isso há anos. Quando era promotor, achava que havia preconceito
em relação às chamadas ações coletivas na questão do consumidor. O juiz
ficava preocupado com o efeito que sua decisão iria produzir. Vejo que
há uma evolução muito benéfica. O consumidor brasileiro foi ultrajado,
vilipendiado, maltratado durante anos neste país. É uma pena que os
tribunais tenham se tornado muito complacentes quanto à indenização por
dano material e moral. Se o Judiciário tivesse sido, no momento
oportuno, mais rígido, aplicando multas severas, nós teríamos, hoje, uma
prestação de serviço muito melhor. A má prestação de serviço compensa. O
empresário percebe que, na grande maioria das vezes, a indenização será
estipulada entre R$ 4 e 7 mil. Ele coloca isso no seu balanço como
prejuízo e pronto. As ações coletivas do consumidor são fundamentais. A
magistratura de forma geral tinha que dar mais importância a elas, e o
Ministério Público manejá-las mais.
ConJur — Por que é
comum ver na Justiça do Trabalho a aplicação de uma indenização por dano
moral coletivo enquanto nas ações de consumo elas são raras? O
Judiciário não condena ou não há pedido nesse sentido?
Marcelo Buhatem — A jurisprudência, principalmente do STJ, é
muito rígida na aplicação desse conceito. Há o entendimento de que, para
configurar dano moral, o nível de chateação, de aborrecimento, de
degradação tem que ser de uma monta muito grande, como se fosse um
plus.
Tem que ser algo capaz de atingir realmente a todos e não só a alguns
dentro de um grupo. Acho que a gente precisava avançar nesse conceito.
Seria uma forma de condenar a empresa em uma quantia vultosa a ponto de
ela não precisar reincidir na prática. Os tribunais brasileiros estão
abarrotados de ações individuais de consumidor e com isso perdemos a
oportunidade de julgar ações de maior envergadura. Os tribunais estão
perdendo essas grandes ações para a arbitragem, que, hoje, é o filé
mignon da advocacia. As demandas consumeristas são fundamentais, mas eu
acho que ações de até 40 salários poderiam terminar em primeira
instância ou ser exclusivas do juizado. Não há necessidade de subirem
aos tribunais.
ConJur — Na Justiça Federal é exclusiva.
Marcelo Buhatem — É. Se isso acontecesse na Justiça estadual,
de 35% a 40% das ações consumeristas seriam retiradas do tribunal.
Haveria maior efetividade às decisões judiciais de primeira instância,
que, hoje, são provisórias. Além disso, haveria maior rapidez no
atendimento ao consumidor. Eu batalho, na parte legislativa, para que
seja aprovada uma lei em que as ações consumeristas de até 40 salários
fiquem na primeira instância. Isso daria tempo aos tribunais para se
debruçar sobre as grandes causas.
ConJur — O que o senhor acha em relação a Defensoria Pública ter legitimidade para poder entrar com ação civil pública?
Marcelo Buhatem — Acho que essa é uma ação de Estado. E o
Ministério Público é legitimado constitucionalmente, exerce de forma
primorosa esta atribuição e não há reclamações plausíveis das investidas
ministeriais nessa área. Portanto, não vejo motivo para a Defensoria
Pública ter que ocupar esse espaço. A Defensoria Pública tem que tratar
de direito individual, do hipossuficiente sempre. Eu acho que só se
ocupa espaço quando há um para ser ocupado. E não há.
ConJur
— As ações individuais, aparentemente, não têm grandes consequências.
Mas somadas elas podem representar um rombo para um município, por
exemplo, quando condenado a fornecer medicamentos ou proceder com
internações. O juiz não ter a dimensão da real consequência das decisões
somadas justifica a resistência a ações públicas?
Marcelo Buhatem — O impacto de uma ação coletiva é sempre muito
maior. A questão orçamentária é sempre apontada nessas ações que tratam
de dar efetividade aos princípios constitucionais da saúde, da vida,
etc. Mas eu acho que esses princípios constitucionais não podem ser
mitigados por causa de questões orçamentárias. O município sabe que,
desde 1988, tem o dever de prestar serviço de saúde. A minha decisão não
é nem será pautada no orçamento municipal. Recentemente, obrigamos um
município a transferir ou a construir um centro de distribuição de
medicamento próximo à população. O município tinha feito um longe do
centro da cidade, em um lugar ermo e de difícil acesso. O administrador
não pode causar embaraços na aplicação de princípios constitucionais
fundamentais. Neste caso, princípios de conveniência e oportunidade têm
que ser afastados. Esse é o Direito moderno. O juiz precisa ter em mente
essa função social do Judiciário. Quando promotor, sempre via a
magistratura muito distante do lado social, do necessitado, do descalço.
ConJur — E qual é o limite para o Judiciário intervir em uma política pública?
Marcelo Buhatem — O limite é a legalidade, a boa fé, a
percepção do bem comum, a necessidade de aproximar o administrador do
administrado. O limite está na lei e nos conceitos que a Constituição
trouxe. O Brasil é um país carente que só começou a ser respeitado e
invejado depois que esses conceitos começaram a ficar mais patentes. Não
há mais como a Europa crescer, os Estados Unidos vivem em guerra com o
mundo inteiro e sobra o Brasil para ser a grande potência. Não tenho
dúvida de que a gente vai chegar lá. Mas vai fazer isso passando pelo
social. Percebo que o Judiciário está se voltando ao social.
ConJur
— O senhor veio do Ministério Público, que adquiriu poderes muito
grandes depois da Constituição. Como o senhor avalia o uso desses
poderes nos últimos anos?
Marcelo Buhatem — Qualquer excesso que houve — e houve — é
perdoado diante dos efeitos e das grandes conquistas que o Ministério
Público trouxe para a população. “Promotor holofote”, “promotorite” ou
exação durante atividade tem que ser, senão perdoado, sopesado. Hoje
vemos muito menos um Luiz Francisco da vida
[o procurador Luiz Francisco de Souza se tornou conhecido durante o governo FHC pelas denúncias midiáticas contra autoridades].
Eu sou da geração logo após a Constituição. Vi alguns excessos e posso
até ter cometido alguns também. Faltava um ponto de equilíbrio e esse
ponto está chegando. É como a criança que não sabe andar. Ela quer andar
na casa toda, o tempo todo, cansa todo mundo, cai e se machuca. Com o
decorrer do tempo, ela vai percebendo os perigos de ali ou acolá. Hoje, o
Ministério Público aprendeu a andar e os excessos são muito menores do
que no passado.
ConJur — O Judiciário foi um dos responsáveis por fazer com que o MP aprendesse a andar, colocando limites?
Marcelo Buhatem — O Ministério Público está encontrando o seu
próprio limite, porque cresceu, evoluiu, amadureceu. Eu não nego que o
Judiciário tenha contribuído para isso, mas não de forma decisiva. A
própria legislação também colocou alguns freios. Há muita gente boa
dentro do Ministério Público.
ConJur — O CNJ está fazendo a inspeção no TJ do Rio. Assusta ver o tribunal sendo inspecionado?
Marcelo Buhatem — Não assusta. Quando os conselhos estavam
sendo discutidos durante a tramitação da emenda constitucional que os
criou, os membros do Ministério Público foram favoráveis desde o
primeiro dia. O Conselho Nacional de Justiça é necessário, benvindo,
fundamental. Acho que ele transforma a magistratura efetivamente em uma
instituição nacional. Há muita informação sobre o trabalho que o CNJ
está fazendo. E o conselho pode e deve continuar a fazer. É que todo
mundo quer. Há muita gente séria na magistratura. Só acho que a
exposição não é boa para ninguém. Não é boa para o conselho, para o juiz
ou desembargador que eventualmente está sendo investigado, e para a
sociedade, que fica desacreditada. É possível atuar da mesma maneira com
pouco mais de respeito à instituição. Quando as notícias são
diariamente ruins, fico preocupado com o imaginário popular sobre o juiz
brasileiro, que, bem ou mal, é a última fronteira de Justiça. Não vejo
motivo para essa exposição. Mas não tenho dúvida de que o CNJ está
agindo assim porque realmente as corregedorias nos estados ao longo dos
50 últimos anos colaboraram para isso. A ausência das corregedorias
estaduais acabou desaguando no que está acontecendo hoje. Eu espero que
os acontecimentos sirvam para que possamos evoluir.
ConJur — O Ministério Público corre o risco de passar por uma situação semelhante?
Marcelo Buhatem — O Ministério Público tem outra estrutura, não
é poder, apesar de alguns dizer que é o quarto poder. O magistrado nada
pode fazer, a não ser dar aula. A rigor, nem síndico ele pode ser. O
CNJ sempre teve um foco maior, melhor orçamento, melhor sede. Oo
conselho do MP preserva mais o membro. As notícias sobre promotores
afastados acabam não sendo divulgadas ou são de forma muito tênue. Mas o
CNMP está trabalhando, sem esses holofotes todos. Talvez porque a
imprensa não cubra de forma adequada, prefira cobrir o CNJ.
ConJur — Órgãos administrativos, como fisco, CNJ e Coaf podem quebrar sigilo?
Marcelo Buhatem —Quando estava no Ministério Público, a
discussão era se o MP podia ou não quebrar o sigilo. O MP queria quebrar
o sigilo dentro de uma investigação dando às partes o direito de defesa
e, em diversas decisões, isso foi negado. O Ministério Público tinha
que requerer a quebra de sigilo bancário e fiscal. Diante disso, não
posso achar que, hoje, a quebra de sigilo possa ser feita sem decisão
judicial. Vivemos em um regime democrático, mas não podemos esquecer o
nosso passado. Hoje, temos garantias. Então que se passe pelo
Judiciário.
ConJur — A partir do momento em que os juízes
passam a se ver na iminência de ter seus sigilos quebrados, eles terão
mais preocupação em relação às garantias que todo cidadão tem?
Marcelo Buhatem — Nós sempre tivemos a preocupação de
promover e de deferir a quebra lastreada em fortes argumentos. O juiz
brasileiro está preparado para ser investigado, não tem o que temer. A
gente trabalha muito, há um crescimento exponencial da distribuição dos
processos. Em um tribunal grande como o do Rio de Janeiro — somos 180
desembargadores — há uma diluição do poder. O tribunal está muito mais
aberto do que no passado. O que mais nos preocupa no CNJ não é a
investigação e nem a exposição. Grave é tocar em ato judicial. Isso a
Constituição proíbe.
ConJur — O CNJ andou suspendendo algumas execuções...
Marcelo Buhatem — No meu entender, isso é
inconstitucional. Eu fazia parte da comissão do Ministério Público que
acompanhava a reforma constitucional e as emendas; participei das
conversas com os deputados. Na primeira minuta de criação dos conselhos,
havia a possibilidade de eles interferirem em decisões judiciais, o que
foi retirado. O Ministério Público, que era a favor dos conselhos,
sustentou que o item feria a autonomia e a independência do membro do
Ministério Público e do Judiciário. Eu acho que o conselho teria
condições de atuar nessa seara de outra maneira.
ConJur — Como?
Marcelo Buhatem — Dar à parte a oportunidade
de recorrer ao Judiciário para cassar uma decisão. O Conselho podia
ingressar como terceiro interessado e ir ao Supremo pedir uma liminar
imediata ou ir ao juízo da causa pedir a suspensão. Mas não suspender
administrativamente. Nunca. Dar cunho judicial a ato administrativo, no
meu entender, não é conveniente.
![Xuxa - 27/06/2012 [Reprodução]](http://s.conjur.com.br/img/b/xuxa-270620122.jpeg) O
provedor de internet serve apenas como intermediário e, como não
produziu nem exerceu fiscalização sobre as mensagens e imagens
transmitidas, não pode ser responsabilizado por eventuais excessos. Essa
foi a justificativa do Superior Tribunal de Justiça para dar provimento
a recurso da Google contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro.
O
provedor de internet serve apenas como intermediário e, como não
produziu nem exerceu fiscalização sobre as mensagens e imagens
transmitidas, não pode ser responsabilizado por eventuais excessos. Essa
foi a justificativa do Superior Tribunal de Justiça para dar provimento
a recurso da Google contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro.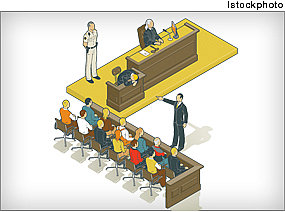 Talento
para fazer a apresentação oral para um público — especialmente quando a
audiência é formada por um grupo de juízes — sempre ajuda. Mas
advogados menos talentosos nesse quesito também podem fazer uma grande
sustentação oral, se estiverem dispostos a se preparar bem para ela. A
chave para uma sustentação oral bem sucedida, valiosa para o advogado,
para a firma e mais ainda para o cliente, é a preparação. E vale o
esforço. A sustentação oral é a parte mais empolgante de um contencioso,
afirma o advogado americano Sam Glover, mais conhecido por seu talento
em tecnologia jurídica.
Talento
para fazer a apresentação oral para um público — especialmente quando a
audiência é formada por um grupo de juízes — sempre ajuda. Mas
advogados menos talentosos nesse quesito também podem fazer uma grande
sustentação oral, se estiverem dispostos a se preparar bem para ela. A
chave para uma sustentação oral bem sucedida, valiosa para o advogado,
para a firma e mais ainda para o cliente, é a preparação. E vale o
esforço. A sustentação oral é a parte mais empolgante de um contencioso,
afirma o advogado americano Sam Glover, mais conhecido por seu talento
em tecnologia jurídica.