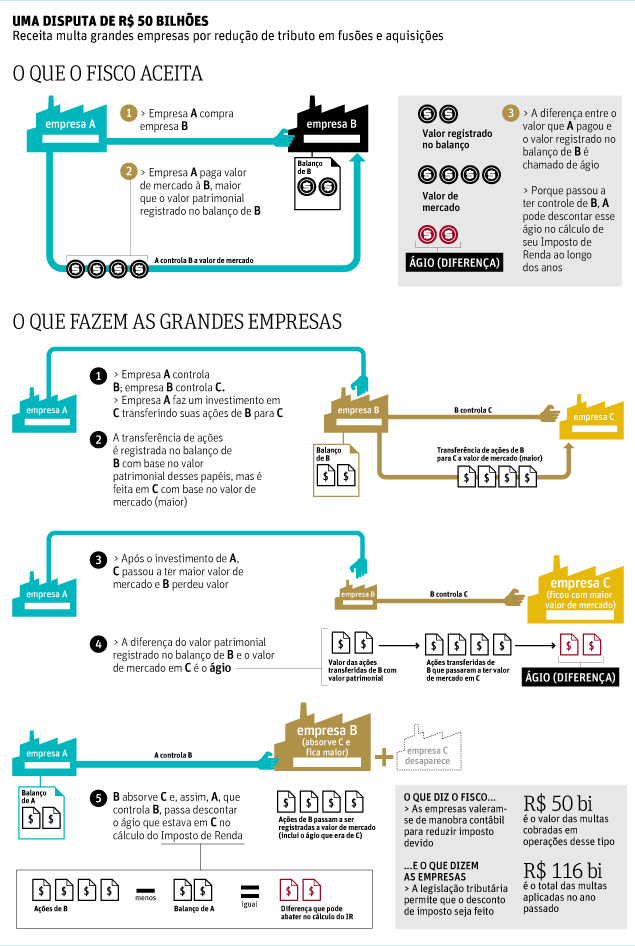Aliomar Baleeiro explicou certa vez, em notável reflexão sobre o trabalho do STF: “Se há coisa em que falhamos é não termos provocado, dos juristas, das universidades, das Ordens de Advogados e dos cidadãos, uma crítica permanente às nossas opiniões e aos nossos trabalhos”.
Pois bem, queiramos ou não, com o julgamento da Ação Penal 470, a Corteprovocou a crítica. Suas cores, tons e duração serão frutos do labor do tempo, mas a verdade é que a comunidade jurídica fez do acórdão objeto de intensos estudos, debates e análises. Até mesmo cursos e seminários levam em seu nome a célebre ação.
Dentro desse contexto, continuamos a tecer algumas considerações a respeito da decisão do STF, nesse momento, sobre o elemento subjetivo do tipo penal de lavagem de dinheiro.
Há tempos a doutrina se divide sobre a admissibilidade do chamado dolo eventual para este delito. Pelas regras legais, se o agente desconhece a procedência infracional dos bens ocultados ou dissimulados, faltar-lhe-á o dolo da prática de lavagem e a conduta será atípica mesmo se o erro for evitável, pois não há previsão da lavagem culposa. Assim, se o agente não percebe a origem delitiva do produto que mascara por descuido ou imprudência, não pratica lavagem de dinheiro, respondendo penalmente o terceiro que determinou o erro, se existir (parágrafo 2º do artigo 20 do Código Penal).
Questão mais complexa é: qual o grau de consciência exigido do agente sobre a procedência dos bens? É suficiente que ele desconfie da origem infracional (dolo eventual) ou se faz necessária aconsciência plena da proveniência ilícita do produto?
Há quem sustente que apenas pratica lavagem de dinheiro aquele que tem plena ciência da origem delitiva dos bens (dolo direto).[1] Nessa linha, a Convenção de Viena (artigo 3, 1, b), de Palermo (artigo 6, 1) e a Directiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (26/10/2005) (artigo 1, 2, a e b), indicam que apenas quem tem conhecimento da proveniência dos bens pratica lavagem de dinheiro.
Por outro lado, há quem afirme que basta a mera suspeita da origem infracional (dolo eventual) para que se afaste o erro de tipo.[2] Nesse sentido, a Convenção de Varsóvia (2005) indica que os Estados-membros da Comunidade Europeia podem tomar medidas para entender como crime os casos de lavagem em que o agente suspeitava da origem ilícita dos bens ou deveria conhecer a origem ilícita dos bens, indicando a possibilidade da prática do crime a título de dolo eventual ou mesmo de imprudência (artigo 9, 3).
Como já expusemos em outra oportunidade[3], entendemos que o agente deve ter consciência clarada origem ilícita dos bens para a lavagem de dinheiro na forma do caput do artigo 1º, sendo o dolo eventual admissível apenas nos casos descritos no parágrafo 2º, inciso I da Lei.
Aceitar o dolo eventual para todas as formas de lavagem de dinheiro não parece adequado do ponto de vista político criminal porque resultaria na imposição de uma carga demasiado custosa àqueles que desempenham atividades no setor financeiro, afinal, sempre será possível encontrar algumindício de mácula na procedência do capital de terceiros com o qual se trabalha, à exceção dos casos em que a licitude original é patente.
A falta de informações sobre a fonte do dinheiro pode gerar desconfiança, ao mesmo tempo em que a fungibilidade do bem impede — em geral — o reconhecimento seguro de sua procedência. Mesmo que sejam adotadas medidas de averiguação do cliente e da operação, nos termos dos atos regulatórios em vigor, sempre — ou quase sempre — haverá espaço para dúvida, e tal dúvida poderá, em um campo semântico alargado, indicar suspeita. Por isso, nos parece que a tipicidade subjetiva da lavagem de dinheiro na forma do caput do artigo 1º é limitada ao dolo direto, sendo odolo eventual admissível apenas nos casos descritos no parágrafo 2º, inciso I da Lei.
No entanto, não parece ter sido esta a orientação do STF por ocasião do julgamento da Ação Penal em discussão. Alguns ministros rechaçaram expressamente o dolo eventual na lavagem de dinheiro, ao menos diante do texto legal anterior[4], mas a maioria admitiu esta modalidade, reconhecendo-a como possível mesmo na redação da Lei 9.613/1998 em vigor à época da prática dos fatos julgados[5].
Seja como for, a leitura das manifestações deixa claro que — para os integrantes da Suprema Corte — o novo texto da lei de lavagem de dinheiro admite o dolo eventual em todas as formas de lavagemde dinheiro[6]. Por isso, parece necessário conceituar tal categoria dogmática, para que sua aplicação seja balizada por critérios precisos.
Tem dolo eventual o agente que suspeita da origem ilícita dos bens com os quais trabalha, mas não tem certeza sobre tal fato. Assim, aquele que envia ao exterior (a uma empresa off-shore) valores não declarados, sobre os quais exista fundada suspeita de origem criminosa, pratica lavagem de dinheiro dolosa (sob a ótica do dolo eventual).
No entanto, não é qualquer suspeita que sustenta o dolo eventual. Ainda que careça da vontade de resultado e da ciência plena da origem ilícita do bem, o dolo eventual exige a consciência concreta do contexto no qual se atua. Como ensina Roxin, não basta uma consciência potencial, marginal, ou um sentimento.[7] É preciso mais: é necessária uma percepção clara das circunstâncias, uma compreensão consciente dos elementos objetivos que justifiquem a duvida sobre a licitude dos bens. Deve-se averiguar se o agente percebeu o perigo de agir, e se assumiu o risco de contribuir para um ato de lavagem.[8] A mera imprudência ou desídia não é suficiente para o dolo eventual. Nesse sentido, a ministra Rosa Weber:
“Admitindo-se o dolo eventual, viabiliza-se uma resposta penal apropriada a esse fenômeno (da lavagem de dinheiro) sem ir ao extremo de prescindir da ciência pelo agente da lavagem da elevada possibilidade da procedência criminosa do objeto da transação” (folha 1.300 do acórdão, sem grifos no original)
Porém, algo mais deve ser levado em consideração. Parte da doutrina e da jurisprudência equiparam ao dolo eventual a chamada cegueira deliberada (wilfull blindness). Trata-se de instituto de origem jurisprudencial norte-americana pelo qual se aceita como dolosos os casos em que o agente se coloca em uma situação proposital de erro de tipo. Assim, tem dolo de lavagem de dinheiro não apenas o agente que conhece (dolo direto) ou suspeita (dolo eventual) da origem ilícita do capital, mas também aquele que cria conscientemente uma barreira para evitar que qualquer suspeita sobre a origem dos bens chegue ao seu conhecimento[9].
Para ilustrar: se o diretor financeiro de uma instituição bancária determina expressamente a seus gerentes que não o informem de operações suspeitas de lavagem de dinheiro, poderá ser condenado pela prática desse crime, por cegueira deliberada, pois criou conscientemente um mecanismo que veda a chegada ao seu conhecimento de qualquer dúvida sobre a licitude dos bens que processa.
A nosso ver, se a admissão do dolo eventual na lavagem de dinheiro já parece pouco recomendável, seu reconhecimento na forma de cegueira deliberada parece ainda menos adequada a um sistema penal pautado pelo princípio da culpabilidade.
No entanto, a cegueira deliberada foi ao menos tangenciada por integrantes do STF, nos autos da Ação Penal 470, apontando para sua possível admissão no cenário jurídico nacional. O ministro Celso de Mello chegou a admitir expressamente a adoção da cegueira deliberada no crime de lavagem de dinheiro, como indica Informativo do STF:
Ato contínuo, o decano da Corte, Min. Celso de Mello admitiu a possibilidade de configuração do crime de lavagem de valores mediante dolo eventual, com apoio na teoria da cegueira deliberada, em que o agente fingiria não perceber determinada situação de ilicitude para, a partir daí, alcançar a vantagem pretendida.[10]
No mesmo sentido, a ministra Rosa Weber à folha1.273 do acórdão, discorreu sobre a teoria, admitindo sua utilização.
Diante da possível aceitação da cegueira deliberada pela jurisprudência pátria, algumas cautelas — recomendadas pela doutrina de países mais íntimos do instituto - devem ser tomadas em sua aplicação[11].
Em primeiro lugar, para a cegueira deliberada é essencial que o agente crie consciente evoluntariamente barreiras ao conhecimento, com a intenção de deixar de tomar contato com a atividade ilícita, caso ela ocorra. O diretor de uma instituição financeira não está em cegueira deliberada se deixa de se certificar de todas as operações do setor de contabilidade a ele subordinada, e se contenta apenas com relatórios gerais. A otimização da organização funcional da instituição não se confunde com a cegueira deliberada. Por outro lado, se o mesmo diretor desativa o setor de controle interno ou de prevenção à lavagem de dinheiro, e suspende seus procedimentos mais relevantes de monitoramento, pode criar uma situação de cegueira deliberada.[12].
Em síntese, a cegueira deliberada somente é equiparada ao dolo eventual nos casos de criação consciente e voluntária de barreiras que evitem o conhecimento da proveniência ilícita de bens.
Mas, para além disso, há um segundo requisito: o agente deve perceber que a criação das barreiras de conhecimento facilitará a prática de atos infracionais penais. Assim, se o agente não quer conhecer a procedência dos bens, mas representa como provável sua origem delitiva, haverá cegueira deliberada. Por outro lado, se lhe faltar a consciência de que tais filtros o impedirão de ter ciência de atos infracionais penais, fica “absolutamente excluído o dolo eventual”.[13] Assim, se um doleiro cria mecanismos para que não lhe cheguem notícias sobre a origem dos bens que manipula porque percebe que podem ser provenientes de ilícitos administrativos — sem representar em absoluto que possam ser oriundos de infrações penais — não haverá dolo eventual em relação à lavagem de dinheiro. Por outro lado, se o diretor de instituição financeira suprimir os sistemas decompliance e desativar mecanismos de comunicação, representando a possibilidade da prática de lavagem de dinheiro, haverá dolo eventual pela cegueira deliberada.[14]
Por fim, é necessário que a suspeita de que naquele contexto será praticada lavagem de dinheiro seja escorada em elementos objetivos. A possibilidade genérica que os usuários do serviço ou atividade praticarão mascaramento de capital não é suficiente. São imprescindíveis elementos concretos que gerem na mente do autor a dúvida razoável sobre a licitude do objeto sobre o qual realizará suas atividades. Como ensina Blanco Cordero, é preciso suspeita, probabilidade de realização e verificação da evitabilidade para a cegueira deliberada.[15]
Em síntese, a cegueira deliberada somente é equiparada ao dolo eventual nos casos de criaçãoconsciente e voluntária de barreiras que evitem o conhecimento de indícios sobre a proveniência ilícita de bens, nos quais o agente represente a possibilidade da evitação recair sobre atos de lavagem de dinheiro.
Também a ministra Rosa Weber entendeu — em seu voto na Ação Penal em estudo — prudente a adoção de critérios para a aplicação da cegueira deliberada, dentre os quais, i) a ciência do agente quanto a elevada probabilidade de que bens, direitos ou valores provenham de crimes; ii) o atuar de forma indiferente a esse conhecimento; iii) a escolha deliberada do agente em permanecer ignorante a respeito de todos os fatos, quando possível a alternativa (folha1.273 do acórdão).
Assim, a cegueira deliberada parece encontrar espaço potencial na jurisprudência pátria. Embora a teoria tenha sido mencionada de passagem por poucos ministros, seus fundamentos não foram rechaçados, apontando para uma possível incorporação ao conceito de dolo das situações em que o agente não conheça os elementos típicos por deliberação expressa.
Tal incorporação — como dito — parece preocupante, uma vez que caracterizará como dolosos comportamentos ontológica e normativamente diferentes. Será dolosa a ação típica na qual o agenteconheça o contexto no qual atua e queira o resultado, bem como aquela na qual o sujeito não queira o resultado e nem mesmo conheça a criação do risco porque criou mecanismos que lhe impediram a ciência deste. Ainda que ambos sejam reprováveis, caracterizar os dois da mesma forma sobrecarrega o instituto do dolo e afeta a proporcionalidade na aplicação da norma penal.
Nessa linha, vale a anotação de Ragués y Vallés, ao tratar da cegueira deliberada na Espanha, país que adota conceitos dogmáticos similares aos brasileiros. O autor aponta para a necessidade de repensar as categorias de dolo e culpa, indicando a possibilidade de criar novas modalidades deimputação subjetiva, com consequências jurídicas diferentes. Com isso, evitar-se-ia o alargamento dodolo para abrigar situações evidentemente dispares, como o dolo direto e a cegueira deliberada, com todos os problemas de proporcionalidade envolvidos nesta equiparação[16].
Assim, talvez melhor que equiparar o dolo eventual à cegueira deliberada, seja a criação legislativa de novas modalidades de imputação subjetiva, para além do dolo e da culpa, com patamares distintos de punição para cada categoria, evitando-se o alargamento e a imprecisão dos institutos e garantindo-se a proporcionalidade na aplicação da pena.
Seja como for, a decisão do STF abre espaço para a cegueira deliberada, exigindo do intérprete e do acadêmico reflexões urgentes sobre o tema, em especial diante dos institutos jurídicos nacionais.
[1] Barros, Lavagem de capitais, p. 59, Callegari, Lavagem de dinheiro, p. 164, Podval, Lavagem de dinheiro, p. 2100, Pitombo, Lavagem de dinheiro, p. 137. Ainda que não mencione expressamente odolo eventual, Reale Jr. caracteriza o dolo da lavagem a partir do conhecimento da origem ilícita, apontando que o agente deve agir com convicção de que o bem sobre o qual atua é ilícito (Figura típica e objeto material do crime de “lavagem de dinheiro”, p. 559-575).
[2] Maia admite dolo eventual diante da ausência de qualquer restrição – diferente do que ocorre com a receptação, Lavagem de dinheiro, p. 88; Bonfim e Bonfim, Lavagem de dinheiro, p. 46; De Carli, Dos crimes, p. 188. Admitem ainda dolo eventual, Moro, Crime de lavagem de dinheiro, p. 62; Prado, Dos crimes: aspectos subjetivos, p. 228. Delmanto, Leis penais especiais comentadas, p. 559-564; Sanctis, Combate à lavagem de dinheiro, p. 49; Oliveira, A criminalização da lavagem de dinheiro. p. 112-129; Pereira, Lavagem de dinheiro: Compatibilidade com o dolo eventual?, p. 32-44.
[3] BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais: comentários à lei 9.613/1998 com as alterações da Lei 12.683/2012.São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 92.
[4] Nesse sentido, o Min. Ricardo Lewandowsky (fls.3736 do acórdão),Min. Dias Toffoli, indicando que é preciso refletir se a nova legislação permite o dolo eventual (fls.3273 do acórdão)
[5] Nesse sentido, a Min. Rosa Weber (fls.1273 do acórdão), a Min. Carmen Lucia, às fls.2081 do acórdão (embora aponte em alguns trechos a necessidade do agente saber da ocorrência de um dos crimes antecedentes, como às fls.2082 do acórdão), o Min. Luiz Fux (fls.3188 do acórdão), o Min. Celso de Mello (embora não publicadas suas manifestações a respeito no acórdão, parece ser essa a linha de seu raciocínio descrita no Informativo STF n.677) e o Min. Ayres Britto (fls.3425 do acórdão).
[6] Posição que, a nosso ver, não parece a mais adequada
[7] ROXIN, Derecho penal, p. 472.
[8] ROXIN, Derecho penal, p. 447.
[9] Para uma visão detalhada do instituto, BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 3. ed., Cap.VII, 3.3; PRADO, Dos crimes: aspectos subjetivos, p. 237 e MORO, Crime de lavagem de dinheiro, p. 69.
[10] Informativo 684, sem grifos.
[11] BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Lavagem de dinheiro: aspectos penais e processuais penais: comentários à lei 9.613/1998 com as alterações da Lei 12.683/2012. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 94.
[12] Idem, ibidem.
[13] Blanco Cordero, El delito de blanqueo de capitales, 3. ed., Cap.VII, 3.3.
[14] Idem, ibidem.
[15] El delito de blanqueo de capitales, Cap.VII, 3.2.
[16] RAGUÉS Y VALLES, Ramon. La ignorância deliberada em derecho penal. Barcelona: Atelier, 2007, pg. 209.